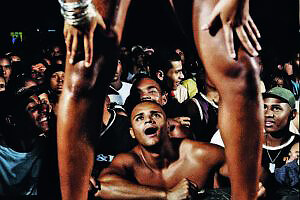Hoje em dia vigora no campo das artes a famosa ressignificação dos conceitos, onde todos são sommeliers de afrescos e a qualidade de uma obra se remodela tão rapidamente quanto o interesse político.
Nessa moda o valor da produção está mais atrelado à percepção de quem a aprecia do que ao objeto em si. Em outras palavras, a obra não precisa mais dizer nada; basta que alguém, em algum lugar, veja algo nela.
A justificativa preferida da vanguarda artística moderna — essa que se auto proclama defensora da “liberdade interpretativa” — é de uma ingenuidade tocante, quase fofa: dizem que restringir a arte a critérios técnicos elitiza o acesso. Claro, porque nada diz “inclusão” como transformar qualquer borrão desleixado em “expressão visceral do inconsciente coletivo”. Confundem, com uma obstinação quase admirável, liberdade criativa com um vale-tudo mental, onde qualquer rabisco infantil pode ser coroado como obra-prima, desde que venha embalado em um discurso pomposo o suficiente para fazer um dicionário chorar de vergonha.
Muito mudou desde a belle époque e o rigor do figurativismo renascentista. Agora, o abstracionismo reina soberano, legitimado pelo mantra contemporâneo: “a beleza está nos olhos de quem vê”. Mas será mesmo?
Antes de comprar essa ideia, é preciso lembrar que a arte, em essência, é uma linguagem — e, como toda linguagem, utiliza signos e significantes para expressar algo. Não se trata de um amontoado de tinta atirada ao acaso, mas de uma tentativa de comunicação.
Apreciar uma pintura de um cachorro só é possível porque sabemos o que é um cachorro. Reconhecemos seus sentimentos na obra porque já vimos um animal bravo, feliz ou envergonhado. Este que vos escreve, por exemplo, já teve uma curiosa mistura de fila com dálmata, um verdadeiro mestre em travessuras, que, ao ser confrontado, se encolhia e cobria os olhos em um ato cômico de vergonha canina.
Assim, seria natural identificar em uma obra um cãozinho encolhido ao lado de um vaso quebrado, deduzindo suas peripécias. Porque, vejam só, a comunicação visual exige um ponto de partida em comum: um dialeto que permita a compreensão.
No entanto, mesmo com essa base compartilhada, a interpretação carrega nuances. Um sommelier pode indicar que certo vinho tenha noções mais neutras e envelhecidas, fazendo aparecer notas próximas à castanha. Mas é perfeitamente possível que o apreciador que, em que pese saber muito bem o que é uma castanha, ainda assim reconheça na bebida tons de compota, já que a sua experiência de vida fez com que a compota se tornasse mais sobressalente naquele grupo de sabores neutros e envelhecidos.
Por outro lado, seria um salto do paladar para o delírio presumir a possibilidade de que, neste mesmo vinho, alguém enxergasse, no sentido sinestésico do termo, notas de maçanilha ou algo como um alcaçuz floril.
Ora, dentro do espectro de possibilidades, existe, necessariamente, um direcionamento para o razoável, que costumamos perceber como campo do ‘bom senso’ ou ‘intuição’, a partir do qual se sujeita o limiar de interpretação do observador.
Não houvesse esse campo limítrofe, não haveria a possibilidade de partir de abstrações para fazer conjecturas e silogismos. Em outras palavras, a comunicação se dissolve, não sendo possível reconhecer símbolos ou reconhecer significados. Diferentemente, podemos olhar para dois pedaços de madeira cruzados vertical e horizontalmente e interpretar imediatamente como algo sagrado.
Na arte moderna, todavia, essa regra existencial é jogada para o limbo.
Em 2007, durante a XXX Feira Internacional de Arte Contemporânea em Madri, uma turma escolar, composta por crianças de 2 anos, recebeu uma tela para que pudesse se expressar livremente. É claro que, não bastasse a absoluta falta de conhecimento e disciplina artística dos jovens aprendizes, a quantidade de miúdos empunhando pincéis e jogando tinta aos ares fez do resultado final uma bela porcaria, que não passou de um punhado de cores cuspidas na tela.
Mesmo assim, após a composição simiesca ser exposta na feira, diversos “críticos da arte” se aproximaram para observá-la. Desavisados quanto à verdadeira origem do quadro, Alguns enxergaram “um campo de flores em pleno êxtase primaveril”, enquanto outros, numa viagem freudiana sem freios, viram “o retrato visceral de desejos sexuais reprimidos”.
Sem tirar o mérito dos aspirantes mirins, não bastasse a mistura de Freud com altas doses de soberba acadêmica, a esquizofrenia final mostra como em certos grupos o sujeito ainda consegue confundir as nozes com o alcaçuz, ou, no caso, a “profundidade cósmica” com que os malfadados críticos podem enxergar em um espirro de tinta infantil.
Ora, isso acontece justamente pela relativização da disciplina artística, que também é linguagem propriamente dita.
E como toda a linguagem, a arte é pautada por elementos, critérios e técnicas objetivamente instituídos para que a comunicação possa ser feita de maneira eficaz. Sem esses critérios, a disciplina se perde e a capacidade do observador se comunicar com o artista é jogada na sarjeta.
A justificativa melindrosa dos críticos contemporâneos é que as interpretações da obra variam, não podendo ser o conteúdo, ou a disciplina artística, restrita a um determinado grupo de pessoas.
Não só a justificativa se equivoca como fica claro que sequer há capacidade mental destes ditos críticos para a compreensão do problema. Os defensores desse delírio contemporâneo alegam que a interpretação é livre e não deve ser restringida por uma elite de especialistas. Mas confundem liberdade com falta de sentido. Nem todos que falam português o fazem com eloquência — e não é porque todos podem dirigir que todos são bons condutores.
A arte nasce do indivíduo para o coletivo. É o artista que comunica sua visão de mundo ao público, não o contrário. Foi Sócrates quem levou a filosofia à Grécia — e não uma plateia que magicamente conferiu sabedoria ao seu silêncio.
A ideia de que uma obra só ganha significado após ser interpretada é não apenas ridícula, mas um ataque à própria função da linguagem. Se a arte não comunica nada, de que adianta existir?
Ao tentar democratizar a arte por meio da desconstrução de suas bases, os “novos artistas” apenas a empobrecem, desfiguram a lógica formal da comunicação e, no fim, entregam ao público um vazio travestido de profundidade.
No final do dia, acidentes de trânsito continuam acontecendo, as pessoas ainda confundem nozes com alcaçuz — e os novos artistas continuam falando merda.